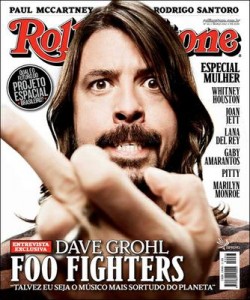Há 40 anos morria Nick Drake, o homem mais triste da música
Pablo Miyazawa
A tragédia musical de Nick Drake. Talvez você conheça muito bem essa história. Ou talvez nunca tenha ouvido falar dela. A segunda opção é a mais provável, ainda que aos poucos a situação esteja mudando. E é por isso que vale a pena falar a respeito.
Essa trama real pode ser resumida em poucas linhas. Nick Drake foi um excepcional cantor e compositor de origem britânica que lançou três belos discos de folk music em meados da década de 70 e permaneceu desconhecido até morrer jovem demais, em 1974. Décadas depois, tem sido redescoberto e vem ganhando cada vez mais fãs devotos. Hoje, ele é uma espécie de herói cult da música indie.
E se é para falar em hipóteses, talvez também seja injustiça chamar de “azarada” a trajetória da carreira de Nick Drake. Ele morreu na madrugada de 24 para 25 de novembro de 1974, há exatos 40 anos, vítima de uma overdose de remédios que usava para tratar um quadro agudo de depressão.
Essa saga se torna mais triste quando sabemos que Drake era morbidamente introspectivo, um tímido incorrigível, que não conseguia lidar com o fato de sua carreira ter sido um fracasso de público. De tão outsider que foi em vida, a ironia quis que ele nem pudesse entrar no mítico “clube dos 27”, que engloba ícones caídos como Jim Morrison, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Brian Jones e, mais recentemente, Kurt Cobain e Amy Winehouse. Nick Drake morreu aos 26 anos, sete meses antes de completar os fatídicos 27.
 Em 1969, quando tinha 20 anos e nenhuma experiência, Drake assinou contrato com a gravadora Island. Lançou três discos em um período de quatro anos, “Five Leaves Left”, “Bryter Layter” e “Pink Moon”. Nenhum vendeu mais de 5 mil cópias na época. Como artista emergente que era, ele também pouco facilitava: quase nunca dava entrevistas, não fazia shows e nem aparecia em programas de TV. Simplesmente não há cenas em video dele adulto (pode buscar no YouTube). Tudo isso contribuiu para reforçar a aura de mistério em torno de sua figura tão sombria e desconectada. Tudo o que existe de registro visual da existência dele são fotos de infância e poucas fotografias a que se permitiu posar para promover os discos. Sonoramente, porém, Drake deixou um material vasto e maravilhoso.
Em 1969, quando tinha 20 anos e nenhuma experiência, Drake assinou contrato com a gravadora Island. Lançou três discos em um período de quatro anos, “Five Leaves Left”, “Bryter Layter” e “Pink Moon”. Nenhum vendeu mais de 5 mil cópias na época. Como artista emergente que era, ele também pouco facilitava: quase nunca dava entrevistas, não fazia shows e nem aparecia em programas de TV. Simplesmente não há cenas em video dele adulto (pode buscar no YouTube). Tudo isso contribuiu para reforçar a aura de mistério em torno de sua figura tão sombria e desconectada. Tudo o que existe de registro visual da existência dele são fotos de infância e poucas fotografias a que se permitiu posar para promover os discos. Sonoramente, porém, Drake deixou um material vasto e maravilhoso.
Nick Drake nasceu na Birmânia (ou Burma na época, hoje Myanmar), filho de pais ingleses, e se mudou para a Inglaterra em 1950, quando tinha apenas 2 anos. Começou a tocar piano ainda criança, por influência da mãe, que cantava e compunha não-profissionalmente. Formou bandas na adolescência, passou a tocar violão, morou fora para (mal) frequentar a faculdade, usou drogas e começou a tocar composições próprias na cena noturna de Londres. Foi descoberto por um produtor e gravou “Five Leaves Left”, um disco solo que não deu em nada. O mesmo aconteceu com o álbum do ano seguinte.
“Fácil” não é uma boa medida para definir a música de Nick Drake. Mas “melancolia” é certamente a palavra que melhor representa o trabalho dele que se tornou simbólico mais tarde, o nublado “Pink Moon”. Com alto grau de sensibilidade e lirismo cru, o disco é construído apenas com um violão belamente dedilhado que faz a única cama para a voz, contida, sussurrada e reflexiva. É de doer de tão triste, e bonito como poucas canções de voz e violão já conseguiram ser.
Não faça comparações com o antigo Bob Dylan: Nick Drake não cantava sobre política e sociedade, nem queria mudar o mundo com suas canções. Ele também não sabia falar sobre sentimentos profundos e pessoais, e utilizava simbolismos ligados à natureza e ao bucolismo para se expressar como um observador remoto e pessimista. Suas músicas não tinham refrão e eram normalmente conduzidas por alguma frase de violão repetida à exaustão. Além disso, Drake cantava lindamente, ainda que em um estilo pouco melódico, e as habilidades com dedilhados e as afinações alternativas ainda hoje são consideradas impressionantes. A influência de bossa nova nunca foi oficialmente comprovada, mas pode ser sentida na soturna utilização do silêncio e no modo sutil como a voz e o violão percorriam caminhos distintos.
Terceiro e derradeiro álbum, “Pink Moon” foi produzido em 1971, durante um estado crescente da depressão, quando Drake já vivia isolado em Londres e pouco se comunicava com o mundo ao redor. Ele terminou a gravação em dois dias, apenas com ajuda de um engenheiro de som, sem overdubs ou outros instrumentos além do violão e um piano martelado que faz o solo da faixa-título. Lançado em fevereiro de 1972, com 11 faixas e apenas 28 minutos, é um dos mais sublimes trabalhos já registrados por um músico sozinho. Clique no vídeo abaixo para escutá-lo (e faça o favor de usar fones de ouvido e não se distrair com qualquer outra coisa).
Mesmo com um impulso promocional da gravadora, “Pink Moon” também fracassou. Com mais uma frustração nas costas, Drake desistiu da carreira e passou a morar na casa de campo dos pais no norte da Inglaterra. O comportamento era cada vez mais errático e introvertido, com a depressão chegando a níveis perigosos – alienado e infeliz, Drake vagava como um zumbi e deixava em estado de alerta quem o conhecia. Só no inicio de 1974, mostrou ter recuperado um pouco do gosto pela vida e chegou a voltar a compor. Parecia animado a tentar mais uma vez. Mas não deu tempo. Após uma noite aparentemente normal, a mãe o encontrou morto na cama. Jamais ficou comprovado se Nick se suicidou, ou se a morte por overdose de medicamentos prescritos foi mesmo acidental.
Há alguns anos, a irmã, Gabrielle Drake, declarou que prefere acreditar que a morte não foi causada por um erro de cálculo. “Eu pessoalmente prefiro achar que Nick cometeu suicídio. Prefiro que ele tenha morrido porque quis do que pelo resultado de um erro trágico. Isso para mim teria sido terrível..“
Demorou anos para que o nome de Nick Drake viesse à tona pelos motivos certos. Compilações ressuscitaram a música perdida, e aos poucos os discos originais foram relançados. No auge da era do CD, um séquito de fãs dedicados começou a despontar. Artistas consagrados passaram a citá-lo como influência. No universo da música alternativa, Drake era o segredo bem guardado que aos poucos começava a se espalhar. Reportagens e biografias foram publicadas. E em 1999, a melhor de suas canções foi usada como tema de uma premiada propaganda de carro.
No comercial, intitulado “Milky Way” (veja acima), quatro jovens passeiam em um Volkswagen Cabrio sob um céu estrelado ao som de “Pink Moon”. O resultado é incrível, e além de angariar novos admiradores ao finado artista, ajudou a modificar as opiniões de alguns críticos sobre a utilização de músicas para fins promocionais. Foi o sucesso tão tardio, repentino e merecido de “Pink Moon” que consolidou Drake como um gênio a ser redescoberto, consumido e decifrado.
É algo triste imaginar que hoje Nick Drake seria tão venerado e seus shows seriam considerados verdadeiros rituais religiosos, como já aconteceu com tantos artistas injustiçados e tirados do limbo. Ainda mais se pensarmos que durante a curta carreira de pouco mais de cinco anos, ele adquiriu uma crescente aversão a se apresentar, por conta da timidez e do desconforto causado pela depressão que sempre o acompanhou. Não há dúvidas de que essa circunstância, entre outras, resultaram no fato de Nick Drake ser ignorado em vida para só receber os aplausos merecidos quando já não estava mais aqui para recebê-los. Se ainda estivesse vivo, será que ele estaria confortável com tanta adulação? E se a trajetória dele não tivesse contornos tão trágicos, será que um dia a música que criou seria valorizada?
Nada disso importa mais. Ainda que tenha demorado tanto, o mundo continua a redescobrir Nick Drake. E não tenho dúvidas de que ele finalmente teria ficado feliz. Antes tarde do que nunca.