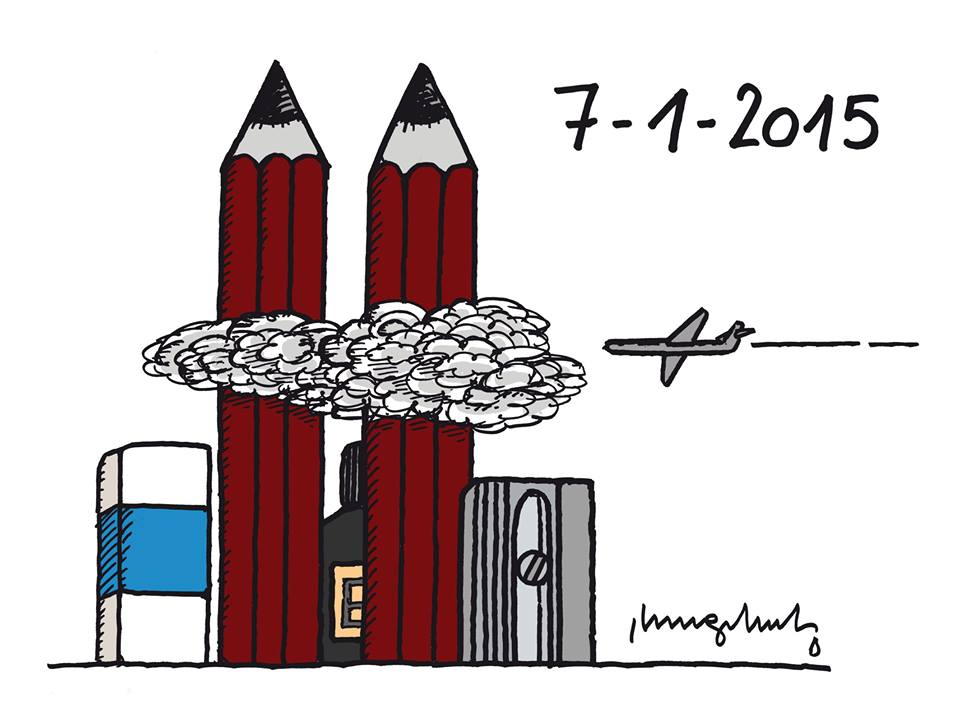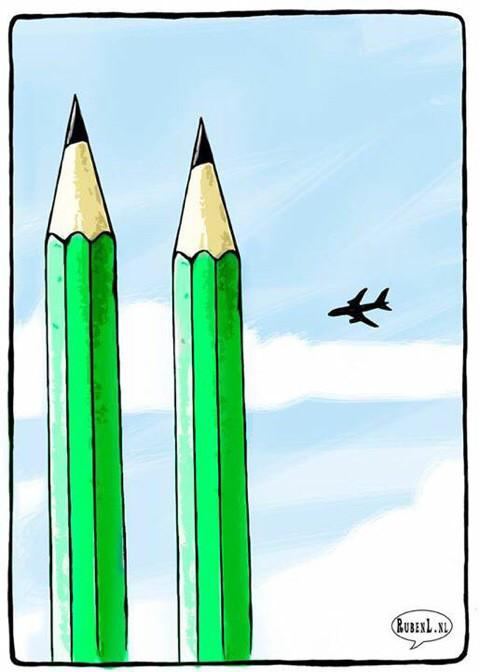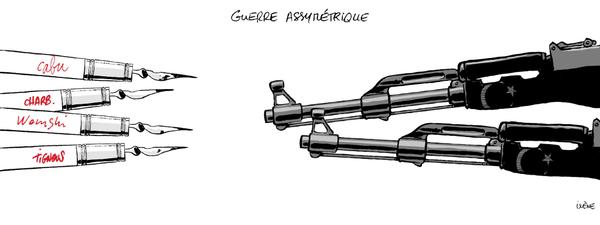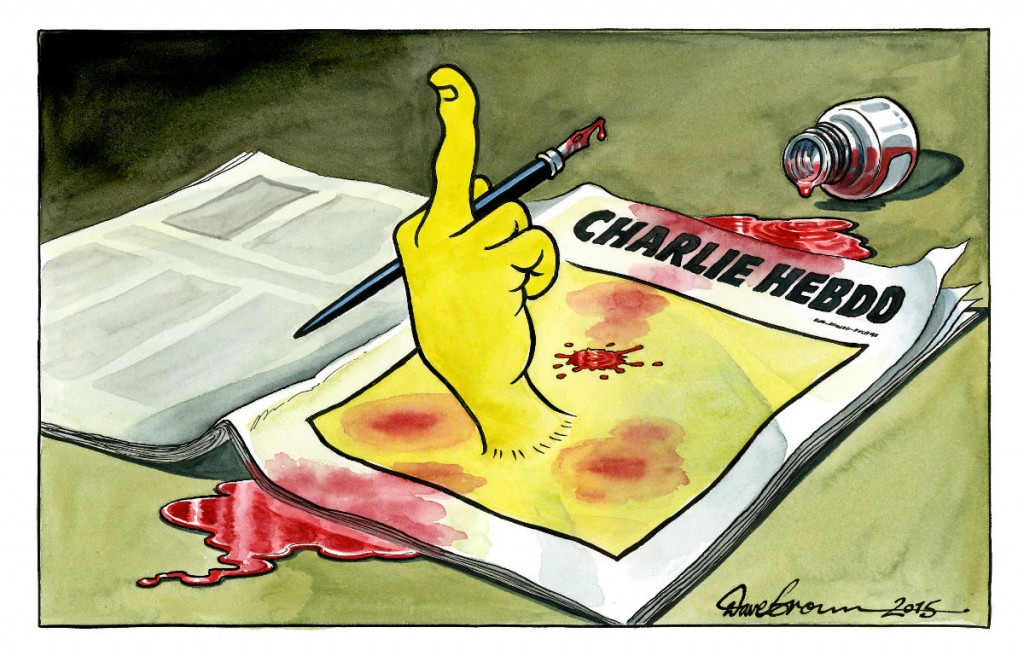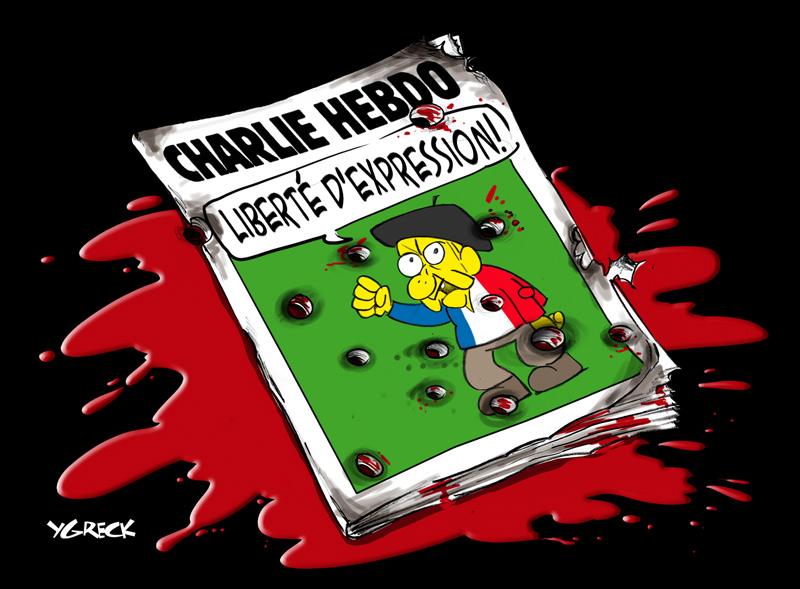O post final que vale por duas mensagens: “Muito obrigado” e “até breve”
Pablo Miyazawa
Tudo o que é bom um dia acaba.
No caso deste blog, hoje é este dia. Este é o último post que publicarei neste espaço.
Foram pouco mais de 100 dias (109 para ser exato) em que consegui fazer algo que me era raro como jornalista: escrever sem muito critério, sem prazos, seguindo meu próprio ritmo. Escolhia meus temas como escolhia a camiseta que vestiria no dia: baseado no meu humor, na minha vontade e nos acontecimentos ao meu redor. Gastei muito mais tempo com essa missão do que eu imaginava ser possível. Se disser que escrevi mais nesses últimos quatro meses do que nos últimos quatro anos, não é exagero. Fazer um blog é tão ou mais difícil quanto me disseram que seria. Talvez até um pouco mais.
Encerro este trabalho para começar imediatamente um novo desafio profissional. A questão é que cedo ou tarde o novo trabalho acabaria conflitando com o meu trabalho neste blog no UOL. Mas mesmo que fosse viável profissionalmente, não sei se conseguiria manter um ritmo adequado de escrita ao mesmo tempo em que coloco o novo projeto em pé. Dizem que quem faz um blog muito bom é porque não está fazendo direito o trabalho “principal”. No meu caso, o blog foi durante um bom tempo o principal merecedor de minha atenção. A partir de agora, não poderá ser mais. Então me dou ao direito de parar de jogar enquanto ainda me sinto vencedor. Deixo meus posts que fiz aqui para a posteridade, para serem reencontrados e lidos por quem puder se interessar. Em um âmbito mais pessoal, esses textos servem como um retrato de uma fase bem específica e interessante da minha vida da qual vou adorar me recordar no futuro.
Estou avisando no meu Twitter (@pablomiyazawa) sobre minhas novas andanças profissionais. Por enquanto, deixo aqui um até breve (breve mesmo) e um muito obrigado por tantas gentilezas – as visitas, as leituras, os compartilhamentos, os comentários e críticas. Foi divertido e valeu a pena cada segundo. Chegou a hora de eu me divertir de um jeito diferente. E eu espero te ver por lá.
Um forte abraço,
Pablo Miyazawa