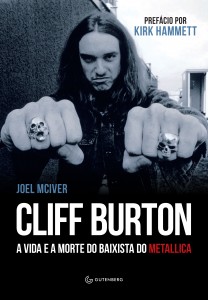Peter Hook é um cara como eu e você (e fundou o Joy Division e o New Order)
Pablo Miyazawa

Peter Hook pretende tocar todos os discos do New Order nos próximos anos. (Foto: Reprodução/Facebook)
Peter Hook é uma figura.
O lendário membro-fundador do Joy Division e do New Order está em São Paulo para um show nesta noite de sexta, 31 de outubro. Dessa vez, Hook toca no Clash Club com sua banda The Light, dois discos do New Order na íntegra: “Lowlife” e “Brotherhood”. Faz anos que a brincadeira temática é comum à rotina do baixista de 58 anos. Começou fazendo shows apenas com músicas do Joy Division em 2011. No ano passado, Hook tocou os dois primeiros álbuns do New Order do começo ao fim: “Movement” e “Power, Corruption and Lies”. E em todas essas turnês, ele passou pelo Brasil.
Na tarde de sexta-feira, os termômetros marcavam mais de 30º. Hook estava diante de uma mesinha em um quarto abafado onde não cabem mais de 70 pessoas – havia pelo menos 50 apinhadas lá dentro, encarando o artista britânico. Os quatro ventiladores ligados quase não davam conta da temperatura alta, mas o clima estava aceitável – escondido em uma viela da Vila Madalena, o espaço de cerca de 30 metros quadrados talvez seja o menor local a abrigar shows de rock profissionais em São Paulo. Aquele foi o palco de uma entrevista coletiva para fãs e sem a imprensa, com mediação (do jornalista Alexandre Matias) e perguntas enviadas previamente. De bermuda e chinelos e cabelo raspado na lateral, Hook respondia a perguntas de fãs sentados no chão, com discos em punho e vestidos com camisetas das duas bandas que ajudou a fundar.
“Eles nem se esforçam, só ficam tocando a mesma merda, uma vez atrás da outra”, Hook falou, justificando o projeto atual de tocar os discos antigos na íntegra e criticando o atual estado do New Order sem ele. “Minha mulher disse que eu tenho agradecer às estrelas de não estar mais na banda. Porque eu ainda estaria frustrado.”
Hook não tem nenhum freio quando se trata de falar o que pensa – principalmente quando o tema é os bastidores de seus ex-grupos. Durante quase uma hora, respondeu sem vacilar a perguntas sobre a saída dele do New Order em 2007 e o eterno conflito verbal e judicial com o ex-parceiro Bernard Sumner. Hook definiu a situação como um casamento que acabou mal: “Pense comigo. Você se divorciou, e se odeiam. Acabaram de dividir o cachorro no meio. E alguém te pergunta: 'Você acha que vão voltar?' É mais ou menos assim que funciona”, comparou. “E o nosso divórcio foi bem ruim. Quando as duas partes se comprometem e concordam, está tudo bem, e quem sabe podem trabalhar junto novamente. Mas não foi o caso.”
O baixista comentou sobre o modo como Sumner continua a tratar o passado entre os dois. “Ele escreveu um livro só para falar como me demitiu da banda. É uma coisa horrível, porque ele não escreveu sobre as coisas que fez tão bem – música, sucesso… Esse cara, o Bernard, praticamente inventou o synth pop britânico. E ainda sssim, ele não fala nada isso no livro! É uma loucura! Não acredito que o coautor não falou nada para ele”, Hook disparou a respeito do recém-lançado livro do rival, “Chapter and Verse [New Order, Joy Division and Me]” . “Eu conseguiria escrever um ótimo livro do New Order”, brincou.
Em outro momento, relembrou a fase inicial da carreira com o Joy Division, que encerrou as atividades quando o vocalista Ian Curtis se suicidou, em 1980. “O abalo na nossa confiança foi grande. Foi difícil voltar a trabalhar”, disse, relembrando o recomeço como New Order e especulando sobre o que teria acontecido musicalmente com a banda se o cantor não tivesse morrido. “Nossa música já estava se tornando dançante e incorporava elementos eletrônicos. Provavelmente não seria muito diferente [do que o New Order acabou fazendo].”
Já sobre a escolha de quem seria a voz do já rebatizado New Order, Hook não perdeu a chance de alfinetar o ex-parceiro e amigo de infância. “Não queríamos pegar alguém que já estivesse estabelecido e tivesse experiência”, disse. “Mas quando Bernard se tornou o vocalista, o relacionamento dele com o resto da banda mudou. Porque ele era o cantor. E todos nós sabemos que os cantores são filhos da puta [bastards].”
Hook entrou no mundo da música na metade dos anos 70 e resistiu fazendo música desde então. Hoje, alega o desinteresse do público para justificar a opção de não gravar novos álbuns de inéditas “Antigamente se vendia muitos discos. Você fazia seu trabalho e era pago pra isso. E você seguia em frente na vida porque vendia discos. E daí, de repente, ninguém ligava mais! A gente fica seis meses se matando no estúdio para fazer um disco. E daí, ninguém o compra! Para um músico das antigas, isso é estranho!”
Apesar do ar seco paulistano, Hook estava se divertindo. Brincou com a tradutora, fez caretas, ignorou uma mensagem da filha no celular e deu um conselho torto sobre como ser bem-sucedido na profissão. “A coisa de se estar num grupo é aprender que você está certo e o mundo todo está errado. Senão você não consegue seguir em frente. O que mais me assusta nesses programas de talentos da TV é que as pessoas vão neles para saber: 'O que você acha de mim?' E quando se é um grupo, você apenas diz: 'Foda-se!' Se você pergunta para as pessoas o que elas acham de você, e elas não concordam com você, você fica arrasado. Para um grupo se dar bem, tem que ser realmente você contra o resto do mundo.”
“Imagine”, ele finalizou a tese, “o que os jurados do X-Factor diriam se vissem hoje uns caras como Ian Curtis, Ian Brown [do Stone Roses], Shaun Rider [do Happy Mondays]. Oh não!”
Quase pedindo desculpas, confessou não ter nenhum herói no contrabaixo e que desenvolveu o jeito de tocar mais focado no visual do que na técnica, citando o estilo “baixo nos joelhos” que caracterizava Paul Simonon do The Clash. Mas acabou mencionando Carol Kaye e Jaco Pastorius como baixistas que admira e destacou as influências de Jack Bruce (Cream) e John Entwistle (The Who), de quem Hook possui dois baixos na coleção particular.
Durante a entrevista, Hook avisou que não daria uma palhinha e quem quisesse vê-lo tocar teria de ir ao show. Ao final, cumpriu a promessa: apenas brincou com um baixo que estava ligado a um amplificador, espancando os dedos nas cordas e as deixando soar. Cercado pelos entrevistadores-agora-fãs, tirou selfies, assinou capas de vinil e CDs e posou para retratos corporativos (o Consulado Britânico organizou o encontro). Quando quase todo mundo já havia tirado um pedacinho de Peter Hook, ele se deu por vencido, decretou o fim do evento e se mandou às pressas, fugindo do sol pela porta afora.