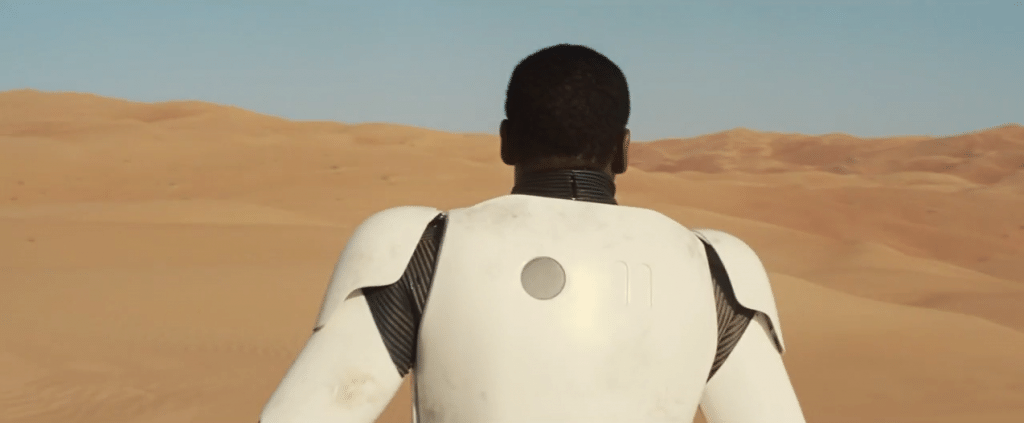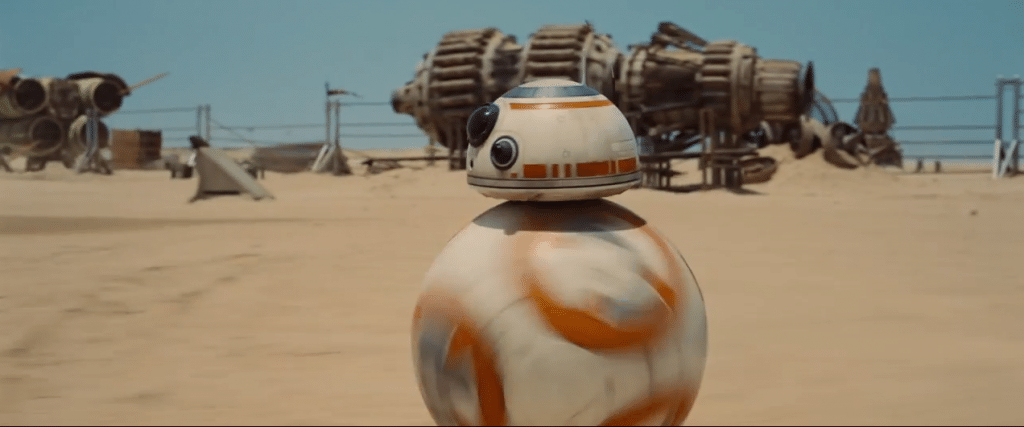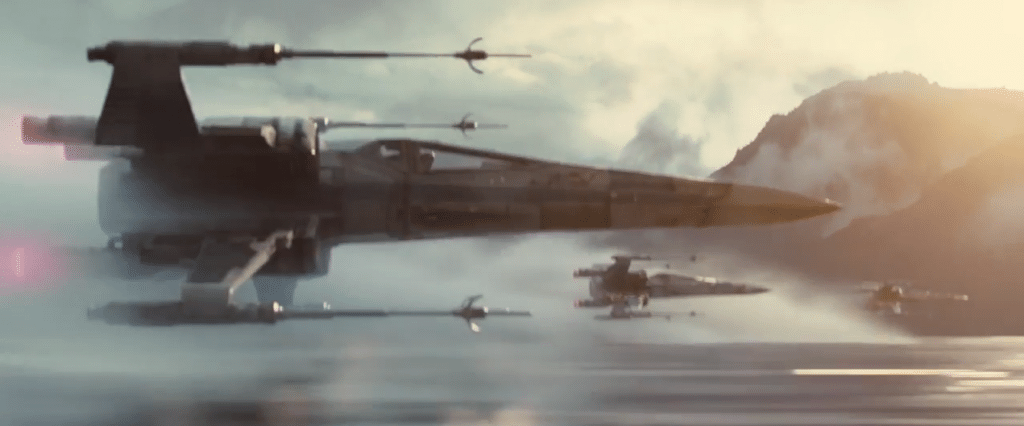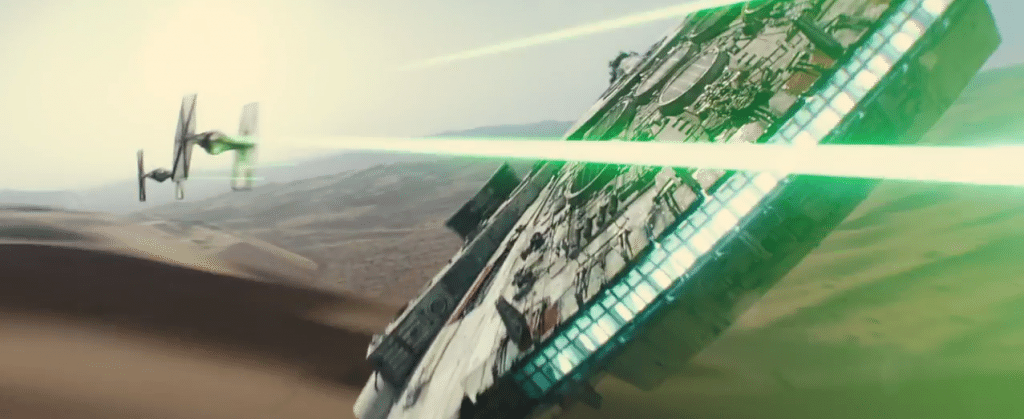Relembrando aquele tempo em que as novelas eram mais divertidas
Pablo Miyazawa
Tenho uma confissão para fazer: quando era criança, eu assistia novelas.
Em meu favor, lembro a você que era um tempo sem internet, sem videogames incríveis (lembra de quando sua mãe dizia que o Atari “estragava a TV?”), sem MTV ou TV a cabo. Lembrando também que para quem era criança nos anos 80, não havia muitas opções de lazer quando a noite chegava. O hábito se foi com o tempo, mas jamais me esqueci das minhas favoritas.
E foram muitas as que acompanhei, de “Guerra dos Sexos” a “O Salvador da Pátria”, de “Ti Ti Ti” a “Selva de Pedra”. Especulei na escola (errado) sobre quem matou Odete Roitman em “Vale Tudo”. Imitava igualzinho o Dom Lázaro Venturini em “Meu Bem, Meu Mal” (“Eu prefiro melão!”). Também colecionei e completei os álbuns de figurinhas de “Roque Santeiro”, “Bebê a Bordo” e “Que Rei Sou Eu?”. Sim, naquele tempo havia álbuns de figurinhas dedicados às novelas e ninguém achava esquisito.
Ou será que eu via novelas porque elas realmente eram mais interessantes antigamente? Prefiro acreditar que era por isso mesmo. Nunca mais consegui acompanhar uma que fosse, mesmo essas unânimes como “Laços de Família”, “Avenida Brasil” e “Salve Jorge”. Se vi três capítulos de cada, foi muito.
Pensei em todas essas coisas enquanto escrevia esta reportagem sobre trilhas sonoras de novelas para o UOL Televisão. A ideia da pauta veio com o lançamento de “Teletema”, livro recém-lançado dos jornalistas Guilherme Bryan e Vincent Villari. É um belíssimo trabalho de 500 páginas que disseca a relação entre músicas e novelas em um período de 25 anos. E esse é apenas o volume 1 – o livro 2, que engloba de 1990 até os dias de hoje, deve sair lá por 2017. Para quem também achava que as novelas eram mais legais antigamente, este é um belo presente para se dar no Natal.
Aproveitando a nostalgia, indico a seguir sete aberturas de novelas globais bizarras que mais marcaram a minha infância e que você deve se lembrar. E se não se lembra, é ou porque nasceu depois dos anos 1980, ou porque está mentindo.
***
1. Roda de Fogo (1986-87)
“Pra Começar” de Marina (Lima) até é um rock de respeito, e a abertura cheia de efeitos especiais, belo exemplar do estilo Hans Donner, era impressionante na época. Mas essa novela é ainda mais memorável por ter inspirado a sátira “Fogo no Rabo”, do ainda mais saudoso TV Pirata.
2. Um Sonho a Mais (1985)
A música-título, que deu o nome a essa novela absurda, deve ser uma das canções que mais toca em formaturas e festinhas oitentistas até hoje. E repare na participação especial do Roupa Nova fazendo o papel de… Roupa Velha.
3. O Dono do Mundo (1991)
Tom Jobim + Charlie Chaplin em “O Grande Ditador” = tudo para dar errado, certo? Mas não é que aqui ficou interessante? Pena que a novela acabou sendo bem meia-boca, apesar de ter começado bem e caprichado na polêmica.
4. O Outro (1987)
“Flores em Você” do Ira! marcou essa novela, mas eu me lembro mais de um comentário inocente que ouvi de alguém sobre a abertura abaixo: “Então as pessoas andam rápido assim na cidade grande?”
5. A Gata Comeu (1985)
O tema tocado pela banda Magazine era um favorito da molecada, mas hoje isso não é o que marca essa vinheta: repare na violência gratuita contra a pobre gatinha de estimação? (Não encontrei o vídeo com a original, apenas essa versão “remake”).
6. Rainha da Sucata (1991)
“Sidney Magal?”, você me pergunta. Sim, e tente ficar parado (ou sem dar risada) com essa abertura esdrúxula que mistura o ritmo da lambada com ficção-científica.
7. Vamp (1991-92)
Não era muito comum a protagonista da novela (no caso, Claudia Ohana) aparecer no vídeo de abertura, mas aqui esse recurso só colaborou para aumentar o clima cômico de desenho animado. Vale a pena ouvir de novo “Noite Preta”, maior (e único) sucesso da saudosa Vange Leonel.
Menção Desonrosa: Barriga de Aluguel (1990-91)
Nem vou entrar no mérito de que a letra da música nada tem a ver com o enredo. Quanto mau gosto pode existir em uma sequência de pouco mais de um minuto? Barrigas desfilam soltas pelo espaço até que uma mulher abre as pernas… e dá a luz ao logotipo da novela. Histórico.
***
E agora que já teve sua sessão nostalgia, leia a reportagem completa aqui.